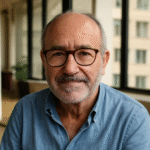Se há algo que Portugal faz melhor do que qualquer outro país é vender ilusões com sotaque encantador. Durante séculos, exportámos sonhos em caravelas… agora exportamos startups em slides animados. O tempo passou, os mitos mudaram, mas a essência continua: vivemos da promessa, não do resultado.
A nova epopeia nacional já não se escreve com astrolábios e bússolas, mas com pitch decks e fundos europeus. Dantes tínhamos o Infante D. Henrique, hoje temos o Banco de Fomento, que investe nos mares do capital de risco… com o dinheiro dos outros. E quando digo “outros”, refiro-me, claro, a ti, a mim e a todos os contribuintes que acham que o IVA serve para tapar buracos, e não para os cavar.
Capital de risco, mas só com dinheiro dos outros
Portugal reinventou o conceito de “capital de risco”. Noutros países, o risco é assumido pelos investidores. Cá, é o Estado que se aventura, com o dinheiro dos contribuintes. O Banco de Fomento, esse mágico da engenharia financeira, descobriu a fórmula perfeita: não investir diretamente, mas canalizar centenas de milhões para fundos privados de capital de risco que, por coincidência, não arriscam um cêntimo próprio e ainda cobram taxas para gerir o dinheiro alheio. Risco? Só se for o de não serem convidados para o próximo jantar de gala no Panteão Nacional.
É o único país do mundo onde se é pago para perder dinheiro, e aplaudido com prémios de “iniciativa visionária” por isso. O resultado está à vista: startups que nunca chegam a produto, projetos que morrem na “fase de conceito”, relatórios onde o impacto social é medido em número de slides e conferências onde os pitchs são mais ensaiados do que as ideias são testadas. Se houvesse uma Olimpíada da aplicação estética de fundos públicos, Portugal ganhava o ouro em PowerPoint sincronizado.
Tudo isto, claro, exige uma fauna própria: o empreendedor português. Uma criatura rara, quase mitológica. Nos Estados Unidos, o fundador começa numa garagem a sobreviver a ramen, a programar de madrugada e a dormir com a cabeça encostada ao servidor. Em Portugal, começa num cowork com sofás de paletes recicladas, cafetaria orgânica e vista para o rio. Em vez de trabalhar num produto, trabalha numa candidatura. Em vez de validar uma ideia, grava um vídeo institucional com música épica e drones. Depois inscreve-se num prémio de “Inovação e Sustentabilidade” promovido pela Câmara Municipal ou por uma incubadora presidida por um primo de um ex-secretário de Estado.
O caminho está traçado: fundos comunitários, consultoras especializadas em preparar candidaturas, prémios de “promessa do ano”, entrevistas na televisão, e jantares de networking com medalhas de cortiça reciclada. A empresa ainda não tem produto, clientes ou modelo de negócio, mas já sonha com a internacionalização. Não há lucros, mas há narrativa. Não há tração, mas há “roadmap estratégico”. E claro, tudo sempre muito “disruptivo”.
O verdadeiro milagre tecnológico português não está na IA, nem na robótica, nem na biotecnologia. Está na arte de transformar fundos públicos em palcos de vaidade. Um teatro nacional onde a inovação é encenada com dinheiro dos outros. E quando a peça acaba, os atores vão embora… mas o contribuinte fica a arrumar as cadeiras.
Farfetch e o efeito “Far-Fetched”
Durante anos, a Farfetch foi o estandarte da glória tecnológica nacional. O primeiro unicórnio português, o orgulho da Nação, a prova de que “Portugal consegue”. E conseguiu mesmo: captar milhões em fundos públicos, beneficiar de isenções fiscais, desfilar em cimeiras de inovação e vender a ideia de um império digital global. Tudo embrulhado num branding de luxo e promessas de disrupção.
Mas os contos de fadas têm sempre um feitiço. A cotação em bolsa foi dos 73 dólares por ação para praticamente zero, num colapso tão abrupto que nem deu tempo para empacotar os sonhos em stock options. Uma montanha-russa de capital e otimismo que terminou com o desfecho habitual à portuguesa: os investidores institucionais saíram discretamente, o fundador encaixou milhões, o Estado ficou com as apresentações inspiradoras e o contribuinte com a conta. Um verdadeiro pump and dump, mas com fado, empatia e um discurso sobre inovação.
O melhor? Perdemos o unicórnio, mas ganhámos uma fundação. Sim, porque um bom milionário que privatiza os lucros com a ajuda do Estado deve, depois, dar o nome a uma instituição filantrópica, é quase um ritual de canonização empresarial. Nasceu assim a Fundação José Neves, que não só carrega o nome do próprio fundador da Farfetch (um caso clínico de vaidade fiscalmente otimizada), como ainda se apresenta como “um portal para o desenvolvimento do potencial humano, onde todos podem entrar”.
Tudo isto, claro, “por amor a Portugal e aos Portugueses”. Com espírito disruptivo. Com visão de futuro. Com isenções fiscais, se possível.
É que quando já se embolsaram uns bons milhões em nome da disrupção digital, a única coisa mais lucrativa do que uma startup falhada… é uma fundação de sucesso. Especialmente quando vem com imunidade mediática, vantagens fiscais e a bênção institucional de quem aplaudiu o fracasso como se fosse uma vitória.
No fim, o país que queria criar unicórnios acabou com uma fundação de auto-homenagem, um monumento à arte de falhar em grande, sem nunca cair em desgraça. Porque em Portugal, quando a bolha rebenta, quem paga é sempre o mesmo: tu, eu, e todos os que ainda acham que os impostos servem para financiar o Serviço Nacional de Saúde.
O novo unicórnio no papel
E agora, surge o novo messias da narrativa tecnológica portuguesa: a Sword Health, uma suposta empresa de inteligência artificial aplicada à saúde, que promete revolucionar o mundo com… comunicados de imprensa. Valorizada em milhares de milhões, celebrada por políticos em romarias mediáticas e paparicada por jornalistas como se fosse a cura para todos os males, a Sword Health tem tudo o que o Portugal moderno adora: buzzwords importadas, rondas de investimento anunciadas em inglês e um CEO com ar de quem já se vê numa capa da Wired, abraçado ao Primeiro-Ministro. O anúncio de um “hub mundial de IA em saúde”, claro, foi inevitável, Portugal não sabe inovar, mas sabe anunciar. E assim, o que noutros países é uma realidade clínica consolidada, aqui transforma-se em slogan de campanha e oportunidade de subsídio. “Hub”, no léxico nacional, raramente significa centro de excelência, costuma ser apenas um escritório com mesa de pingue-pongue, bicicletas vintage penduradas na parede e ligação direta ao PRR.
Mas o verdadeiro milagre não está no produto; está na engenharia financeira. Mais de 200 milhões de dólares já foram retirados da empresa por atuais e antigos colaboradores, através de sucessivas vendas privadas de ações. A mais recente, em Outubro de 2025, garantiu um encaixe de 54 milhões de dólares só para colaboradores portugueses. Um saque legalizado, travestido de “reconhecimento de talento” e “geração de riqueza intergeracional”. E o mais surreal? A empresa anuncia com orgulho que este esquema se vai repetir todos os anos. Ou seja, a Sword Health já nem finge ser uma startup em crescimento, é uma fábrica de liquidez para insiders que conhecem bem o jogo e sabem quando sair, enquanto ainda há dinheiro para sacar.
E de onde vem esse dinheiro? Da confiança ingénua de investidores privados? Não. Vem, em boa parte, dos fundos ditos de “capital de risco” alimentados com dinheiro do Estado português, via Banco de Fomento. O mesmo Estado que injeta centenas de milhões em fundos privados e se esquece, ou prefere não saber, de impor qualquer blindagem à utilização desses montantes. O capital entra na empresa e, em vez de ser aplicado em desenvolvimento, é desviado para enriquecer quem já lá está dentro. Ninguém pergunta se entre os “colaboradores” que venderam estão os próprios membros da direção. Ninguém audita os conflitos de interesse. Ninguém impõe regras. É como dar um cartão multibanco sem plafond à porta de um casino, com PIN incluído.
No fim, tudo é apresentado como um caso de sucesso. Mas sucesso para quem? Para o contribuinte que financiou esta operação de enriquecimento selectivo? Para o Estado que se vê reduzido a espectador passivo enquanto empresas sem produto se transformam em plataformas de distribuição de dividendos privados? Ou para os insiders que já garantiram o deles, e prometem repetir a dose para o ano?
Mais um milagre do ecossistema português de inovação: transformar promessas em fortunas, e fortunas em cinzas, sempre com o selo da “disrupção” e o carimbo da União Europeia ao fundo.
O Carnaval da inovação
E como esquecer o Web Summit, o ponto alto do calendário do empreendedorismo de fachada? Durante uma semana, Lisboa transforma-se numa paródia global do progresso, onde os investidores vêm pelo clima, os startupeiros vêm pelas selfies e os ministros vêm pelo prime time. É o festival do otimismo servido em copos recicláveis. Os auditórios enchem-se de keynote speakers com sotaques importados, as televisões transmitem em direto, e o país inteiro convence-se de que o futuro mora no Parque das Nações. Spoiler: mora em Dublin. Nós ficamos com a fatura da limpeza.
E como prova máxima do génio luso, tivemos a nossa Cristina Ferreira, o verdadeiro orgulho tecnológico nacional. Não apresentou um novo algoritmo, mas ensinou o verbo to be no palco da Web Summit. Sim, a mulher que revolucionou as manhãs da TVI levou o inglês de Cambridge à conferência de Lisboa, e ainda teve tempo para falar de “tecnologia com coração”. E nós, enternecidos, aplaudimos. Finalmente uma intervenção à altura do nosso ecossistema digital: emocional, inspiradora e totalmente desprovida de utilidade prática.
A verdade é esta: o Web Summit não se realiza em Portugal por sermos o berço da próxima revolução tecnológica, mas porque somos o anfitrião perfeito: simpáticos, baratos e sempre prontos a pôr a mesa. Não somos o motor da inovação, somos o mestre de cerimónias do networking. O país do “desenrasca” virou o catering oficial do progresso alheio. Enquanto os outros fecham negócios, nós tiramos selfies com o Tejo ao fundo e brindamos com imperiais a um futuro que, como sempre, vem cá passar férias, mas nunca fica para investir.

O que Portugal deveria fazer (mas não faz)
O verdadeiro milagre português não seria criar mais unicórnios de PowerPoint, mas sim construir um país onde os resultados falem mais alto do que os slogans. Onde se financie o que funciona, em vez do que parece bonito num pitch. Chegou a altura de trocar as buzzwords pelas ferramentas. De parar de investir em “startups de impacto” e começar a investir em impacto real. Infraestruturas que funcionem. Escolas com laboratórios, não com tablets avariadas. Serviços públicos digitais que não obriguem a imprimir um PDF para assinar com caneta. Impostos que não punam quem trabalha ou investe, mas que penalizem quem vive à sombra dos subsídios.
Precisamos de um sistema de formação técnica robusto, que produza profissionais capazes de construir, programar, fabricar, reparar. Engenheiros, técnicos, operadores especializados, não apenas gestores de inovação, consultores de pitch, ou “chief disruption officers”. A Alemanha fê-lo. A Áustria fê-lo. Nós continuamos a premiar quem sabe fazer candidaturas em vez de máquinas.
Chega de hubs de inteligência artificial instalados em salas alugadas com sofás coloridos e café de cápsula. O que Portugal precisa são fábricas modernas, produção com valor acrescentado, empresas que não desaparecem ao fim de dois anos nem vivem a saltar de incubadora em incubadora como adolescentes crónicos. Empresas com chão de fábrica, e não apenas chão flutuante.
E sobretudo, transparência. Relatórios públicos, acessíveis, linha a linha. Queremos saber onde está o dinheiro. Quem recebeu. O que entregou. Quanto faturou. E onde estão os resultados. Basta de opacidade, de relatórios com “indicadores de sucesso qualitativo” ou “impacto intangível”. Queremos saber quem anda a construir… e quem anda a vender vento.
Portugal não precisa de mais narrativas. Precisa de dignidade económica. De mérito, suor e consequência. E de um Estado que pare de subsidiar o espetáculo, e comece finalmente a financiar o progresso.
O desfecho inevitável
Portugal continua a sonhar com unicórnios enquanto o resto do mundo constrói motores. Confundimos inovação com storytelling, progresso com eventos, e fotografias com Primeiro-Ministros com provas de sucesso. Apostamos em slogans e ficamos ofendidos quando a realidade não acompanha o entusiasmo do guião. Mas os ciclos são implacáveis: o unicórnio de hoje é o caso de estudo de amanhã, e o caso de estudo de amanhã é o escândalo de daqui a cinco anos, normalmente com o contribuinte a arcar com os custos retroativos da festa.
E já agora, deixem uma nota no frigorífico: o conto de fadas Sword Health ainda não acabou. Ainda brilha nos jornais e sorri em conferências, mas cada venda de ações por parte dos seus insiders é um gesto significativo que anuncia o colapso lento e silencioso de mais uma promessa embalada em linguagem tecnológica. Estamos a assistir a um processo gradual de esvaziamento, não de ar, mas de capital, disfarçado de “recompensa pelo talento”. É provável que continue a captar milhões em nome da disrupção até deixar de haver disrupção (ou milhões). Quando deixarmos de ver comunicados, será tarde demais. Por isso, mantenham os olhos abertos, não para investir, mas para contabilizar os estragos.
E quando o próximo unicórnio desaparecer entre comunicados e comunicadores, quando o hub de IA se revelar um PowerPoint reciclado com vista para o Tejo, e quando alguém perguntar “como é que ninguém viu isto a tempo?”, eu quero deixar isto registado:
Eu avisei.