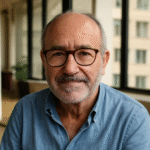Enquanto a Europa se afunda lentamente num processo de desindustrialização que nem Merkel conseguiria travar com um plano quinquenal, há um elefante a circular discretamente no parque industrial de Palmela: chama-se Autoeuropa. Uma das maiores fábricas do país, responsável por mais de um por cento do PIB nacional, empregadora de milhares e celebrada como troféu de modernidade económica, está, ainda assim, sentada em cima de uma mina de incerteza. E quem é que está a prestar atenção? Alguém? O Parlamento? A AICEP? Ou estamos todos demasiado ocupados a brindar com fundos europeus enquanto os alemães preparam o plano de fecho?
Porque a verdade desconfortável é esta: se a Volkswagen continuar a fechar fábricas, como já o está a fazer, Palmela não está imune. E o que temos preparado para esse cenário? Nada. Só fé. Fé no próximo modelo, fé no próximo investimento, fé no próximo comunicado de imprensa. Mas fé, como sabemos, não paga subsídios de desemprego. Nem reindustrializa um parque abandonado.
Montamos, mas não comandamos
Em Palmela produz-se. Muito. Mais de 236 mil viaturas em 2024, um ritmo industrial quase germânico. O PIB agradece, as exportações enchem relatórios e os ministros falam em “cluster automóvel” com aquele ar estudado de especialista que nunca apertou um parafuso na vida. Mas vamos à conta: cada carro sai da fábrica com um preço de exportação médio de cerca de 15 mil euros. Parece bom? Espere.
O valor é uma ilusão estatística: o verdadeiro lucro, aquele suculento, com gordura de porco preto bem curada, fica nos cofres da distribuidora da VW na Alemanha, na entidade que detém a marca, ou na sociedade que registou a patente do para-choques no Luxemburgo. Em Portugal, fica-nos o prazer de montar carros com parafusos importados e lucros despachados via DHL fiscal para a Europa Central. A nossa especialidade? Produzir em massa com margem curta. Muito curta. Tipo 2% a 4%, quando corre bem.
Palmela trabalha, Frankfurt lucra
Diz-se com orgulho institucional que a Autoeuropa representa cerca de 1,5% do PIB português. E não é mentira. Mas é uma daquelas verdades orçamentais que convém espremer com atenção. Porque se é certo que os carros saem de Palmela, também é certo que os componentes entram de todo o lado: motores, cablagens, plásticos moldados, eletrónica alemã, sensores asiáticos, parafusos suíços e até os coletes refletores usados na linha vêm com etiqueta “Made in Poland”.
Resultado? Uma fábrica que parece portuguesa, mas cuja composição molecular é maioritariamente importada. Se formos honestos, entre 60% a 75% do que vai para dentro de cada viatura não passa pela economia nacional, apenas pelo armazém. O que nos deixa, com sorte, com um valor acrescentado nacional de 25% a 40%.
Ora, se cada carro sai de Portugal com um preço médio de exportação de 15 mil euros, isso significa que entre 9 e 11 mil euros voam imediatamente para os bolsos alheios. O que sobra? Uns 4 a 6 mil euros por unidade para pagar salários, energia, manutenção e, com sorte, uma margem operacional digna de constar num relatório de contas sem causar embaraço.
E sim, esses tais 3,6 mil milhões de euros em exportações brilham no Excel do INE e encantam os discursos no Parlamento. Mas quando se esfuma o marketing e se faz a conta ao que verdadeiramente fica em Portugal, percebe-se que o milagre económico é mais aparente do que real. Exportamos volumes. Lucros, nem por isso. Esses apanham o primeiro voo fiscal para Frankfurt, com escala no Luxemburgo, e nem olham para trás.
E nós? Andamos a pagar para montar carros dos outros?
Claro que sim. E com uma lágrima de orgulho no canto do olho. Porque quando se trata da Autoeuropa, os nossos governantes comportam-se como pais babados que oferecem uma mesada generosa ao filho, só para este lhes comprar uma gravata no Natal… paga com o próprio dinheiro deles, claro. E mesmo assim, soltam um “obrigado, meu querido, és tão atencioso”.
Ao longo das décadas, o contribuinte português, esse ser manso e pontual, já financiou, sem saber muito bem, sucessivas rondas de “apoio estratégico” à fábrica de Palmela: desde os apoios fundadores nos anos 90, passando pelas ajudas à formação, pelos incentivos à modernização e, mais recentemente, pelo cheque de 30 milhões de euros para garantir a produção de um novo modelo eléctrico com nome de fizeiro ZIP: ID.Every1.
Televisões e jornais, evidentemente, rejubilaram. Manchetes orgulhosas com “Portugal assegura futuro da Autoeuropa” ou “nova geração de carros eléctricos vai ser feita em Palmela” pintaram o cenário de glória tecnológica e soberania industrial. Mas ninguém parece ter feito a pergunta mais básica: já viram o carro?
Aquilo parece saído de um catálogo soviético. E depois há outra pergunta, ainda mais embaraçosa: será que aquilo vai vender? Num mercado europeu onde os consumidores já olham para os modelos chineses, com mais tecnologia, melhor autonomia, e metade do preço, será que o Every1 vai ser mesmo para “todos”? Ou será só mais um produto de catálogo, empurrado com incentivos Europeus até rebentar nas mãos dos concessionários?
Entretanto, o contribuinte, esse herói silencioso, paga. Com gosto. Porque acredita que está a investir no futuro. Um futuro que, se correr mal, virá avisar-nos em alemão e via email curto: “Infelizmente, devido à conjuntura global, o modelo ID.Every1 será descontinuado e a produção transferida para uma localização mais competitiva”. Danke. E boa sorte.
E se fechar?
Ah, a pergunta que ninguém quer ouvir nos corredores do Ministério da Economia. É dita em voz baixa, com medo de que a simples formulação do pensamento se transforme numa profecia autoexecutável. Mas vamos dizê-lo alto, com todas as letras: e se a Volkswagen decidir fechar Palmela?
A primeira reação será o habitual “não há qualquer indicação nesse sentido”. Seguir-se-á o clássico “ainda não nos foi comunicado formalmente pela Volkswagen”, logo antes da criação de um grupo de trabalho com nome pomposo e conclusões inconclusivas. Mas os números não se compadecem com comunicados serenos:
- 4.800 empregos diretos evaporam-se num instante;
- 6 a 12 mil postos indiretos caem como peças de dominó: fornecedores, logísticos, empresas de limpeza industrial e até a tasca que vende os pica-paus ali ao lado da portaria;
- o Estado perde mais de 100 milhões de euros por ano só em IRS, TSU e IRC;
- e, cereja no topo, tem de pagar 250 a 350 milhões em subsídios de desemprego, formação e apoios de emergência.
Tudo isso no primeiro ano. Fora o que vem depois.
O PIB encolhe 1,5 pontos percentuais. As exportações levam uma pancada de quase 4%. A confiança industrial vai pelo cano. E o Governo? Fica com as instalações vazias e uma chave de fendas na mão, a perguntar-se se aquilo ainda dá para montar Tuk Tuks ou trotinetes.
E o pior é que ninguém poderá dizer que não viu isto a chegar. A Volkswagen já está a fechar fábricas, a cortar investimentos e a rever planos eléctricos. E Palmela, por mais eficiência que tenha, é só mais uma linha numa folha de cálculo alemã.
Uma linha que pode ser apagada com um clique. Sem emoção. Sem reunião. Sem volta.

E o plano B? Há?
Não. Ou pelo menos não oficialmente. Mas deveria haver. Em segredo, o Governo devia estar, neste preciso momento, a jantar com três fabricantes chineses de carros eléctricos por semana. Apresentar-lhes Palmela como terreno pronto, com infraestrutura moderna, know-how consolidado e uma população trabalhadora que já monta T-Rocs de olhos fechados.
Devíamos ter um plano de transição afinado como um motor elétrico: saber quanto custa reconfigurar cada linha de produção, que fornecedores podemos manter, quantos postos podemos resgatar e quanto tempo demoraria o arranque. Conhecer as datas de expiração dos contratos com a Volkswagen, ter a matriz completa dos fornecedores locais, saber quem sobrevive à tempestade e quem fecha à primeira rajada.
E quando a VW sussurrar, lá em 2029, com aquele tom cortês mas fatal: “Talvez não haja modelo novo previsto para Palmela…”, Portugal deveria já estar de pé, a sorrir, com um contrato de intenção em mandarim na mão, uma caneta na outra, e a frase pronta: “Compreendemos perfeitamente. Boa sorte em Bratislava.”
Isto sim seria, pela primeira vez em décadas, um Governo que pensa estrategicamente em vez de reativamente. Que age antes do incêndio, e não quando já só há cinzas para registar no auto de ocorrência. Porque como diz o velho ditado, que ninguém no Governo parece ter ouvido, é melhor prevenir do que lamentar… entre comissões parlamentares de inquérito para descobrir de quem foi a culpa.
Confiar nos alemães para manter fábricas abertas no sul da Europa é como confiar num suíço para guardar lugar na fila da AIMA: está lá, parece ordeiro… mas ao primeiro empurrão desaparece discretamente e diz que achava que era tudo online.
A diferença é que, neste caso, o que se perde não é só o lugar, são milhares de empregos e uma fatia do nosso PIB.
Mas podemos fazer mais. Muito mais.
Portugal tem de deixar de ser apenas um chão de fábrica, esse papel submisso e repetitivo onde montamos com zelo o que outros pensaram, desenharam, patentearam e vendem com lucro. Já é tempo de abandonar a síndrome do operário obediente e começar a agir como país com ambição industrial. Não basta apertar parafusos, temos de apertar a lógica económica que nos mantém sempre no andar de baixo da cadeia de valor.
Podemos, e devemos, subir. Como?
Criando centros de engenharia e design ligados às unidades produtivas, onde não só se monta, mas também se projeta, se experimenta e se inventa. Porque quem projeta comanda. E quem comanda decide onde fica o lucro.
Atraindo departamentos de software e prototipagem, porque os carros de hoje já são mais algoritmos do que eixos. Sem tecnologia própria, seremos só a oficina barata da Europa. Com ela, entramos no jogo dos que contam.
Incentivando, fiscalmente e juridicamente, que os intangíveis, marcas, patentes, plataformas, código, passem a estar registados em Portugal, e não num qualquer escritório obscuro no Luxemburgo com uma secretária partilhada e uma caixa postal.
Criando universidades técnicas e politécnicos industriais que falem com as fábricas, não apenas com o Ministério da Ciência. Onde se forme gente para resolver problemas reais em chão de fábrica, e não só para escrever teses sobre economia circular com gráficos em 3D.
E sim, obrigando, com cláusulas nos contratos de apoio público, que uma parte da propriedade industrial do que é feito cá… também seja registada cá. Porque um país que financia a produção sem garantir retenção de valor é como um agricultor que semeia, rega e colhe, só para depois entregar o cesto ao vizinho, que ainda nos agradece com um aceno e revende no mercado ao dobro do preço.
Enquanto continuarmos a fazer de conta que tudo isto é opcional, vamos aplaudir fábricas que, à primeira crise global, levantam ferro e deixam apenas o eco das promessas e um parque industrial com teias de aranha.
Fim de linha (de montagem)
Somos bons a montar. Rápidos. Eficientes. Silenciosos. Como operários treinados para apertar parafusos sem fazer ondas. Mas enquanto os lucros voarem para fora, e o guião continuar a ser escrito na sede da VW, seremos sempre um país de semi-acabados. Como os produtos que exportamos: completos por fora, mas com o valor real bem longe.
A Autoeuropa não é um erro. Nunca foi. É uma peça importante da nossa economia e dá emprego a milhares de portugueses. Mas é, acima de tudo, uma oportunidade estrutural mal aproveitada. Porque o que construímos não foi uma indústria automóvel portuguesa. Foi uma linha de montagem alemã com vista para a Arrábida.
Enquanto não tivermos coragem política e visão estratégica para exigir mais, mais valor, mais propriedade intelectual, mais enraizamento tecnológico, continuaremos a confundir trabalho com progresso, e fábrica com soberania.
E se não abrirmos os olhos… qualquer dia fecham-nos a fábrica. Sem aviso. Sem cerimónia. Por e-mail. E nós, como sempre, ficamos a olhar para o parque industrial vazio, a dizer: “Mas dava emprego a tanta gente…”
Pois dava. Dava. E dava para muito mais. Se quiséssemos.